O casal Georges e Anne, no alto do seus 80 anos, tem sua rotina alterada quando Anne começa a apresentar sinais de uma enfermidade crônica.
Depois de assistir “Amor”, alguns críticos afirmaram que este é o filme no qual o característico estilo frio, seco e analítico de Michael Haneke se manifesta com mais força, mas acredito que é na verdade a combinação do estilo com a temática incômoda que acaba por tornar esse um dos filmes mais difíceis do diretor. Basicamente duas horas de um tour de force do processo de degradação da saúde de uma senhora de 80 e tantos anos, o longa metragem vai se tornando cada vez mais indigesto à medida que avança, sua última hora sendo a mais angustiante. Com o desfecho revelado logo no início, o espectador que tem a noção de que o diretor austríaco é um observador inclemente por natureza já imagina que enfrentará todo o restante do longa apenas para testemunhar a jornada de sofrimento, desilusão, e desesperança que Anne e George irão encarar – Anne penando por estar consciente de seu estado, por conformar-se com seu destino e inconformar-se com demonstrações de tristeza e piedade; Georges sofrendo com a afirmação desta de que representa um estorvo para ele, com o modo pragmático como Anne às vezes manifesta querer solucionar sua condição e principalmente por presenciar a veloz e severa deterioração da saúde de sua companheira de toda vida.
Por conta de seu naturalismo irrevogável – visível na fotografia em grande parte impessoal e compassiva e na quase completa ausência de trilha sonora – e de sua enorme proximidade com o teatro – praticamente toda a história se passa dentro do apartamento do casal -, “Amour” é um espetáculo pensado para seus poucos atores. Na pele do casal de protagonistas, Jean-Louis Trintignant e Emmanuelle Riva exploram todo o peso e a experiência da idade em suas expressões e gestos, sendo até mesmo seus silêncios marcados por uma carga imensa de significados, mas é Riva, por conta da galopante piora de sua personagem, que acaba ficando com a atuação mais complexa e extenuante dentre os dois: seu trabalho é tão intensamente verdadeiro que na última metade do filme o espectador respira fundo e move-se inquieto na cadeira do cinema a cada vez que uma cena com a atriz é apresentada. A sempre irreprimível Isabelle Huppert, musa de Haneke, tem poucas sequências no longa no papel da filha do casal, mas estas são suficientes para que a atriz imprima o desespero, a dor e a impotência de uma filha diante do penoso processo de morte de alguém que lhe concedeu a vida.
Não há muito mais o que falar sobre “Amor”, a não ser que por conta de toda esta objetividade o filme acabe sendo um tanto previsível, além de arrastar-se um pouco além do necessário, coisas que o tornam o menos pungente longa-metragem do diretor austríaco. Contudo, a lentidão narrativa é uma marca já bastante conhecida do cinema de Haneke, e raramente utilizada por ele de modo gratuito, e o desenvolvimento e desfecho algo previsíveis são intencionais e inevitavelmente necessários – o propósito de um diretor tão engajado como Haneke narrando uma história como esta não é surpreender, mas atestar de modo contumaz o que já é de conhecimento do público, mas que é pouco considerado por este. Assim, despido como é de qualquer artifício que não seja a espinha dorsal do cinema e materializando-se como a mais explícita confissão de que o diretor tem tão pouca misericórdia de seus personagens quanto tem dos espectadores, “Amor” é a obra-síntese absoluta do cinema direto e incisivo de Haneke. Isso, no entanto, não significa que o diretor pormenorize a emoção: é delineando ao seu modo preciso e mordaz as dores e o sofrer do envelhecimento, da enfermidade e da morte que Haneke afirma a vida, o companheirismo e, claro, o amor. A diferença é que, sendo quem é, Haneke o faz sem as concessões, os misticismos e os esoterismos de boutique. Ainda bem.

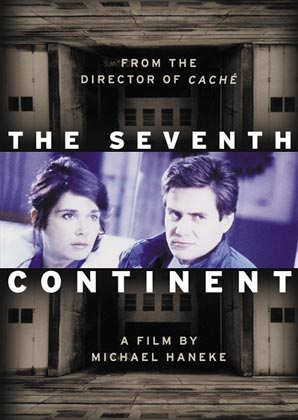
 Eventos violentos, que ocorrem de forma infrequente, começam a perturbar a paz de uma vila de agricultores situada nas propriedades de um barão na Alemanha de 1913.
Eventos violentos, que ocorrem de forma infrequente, começam a perturbar a paz de uma vila de agricultores situada nas propriedades de um barão na Alemanha de 1913.
 Casal de classe média-alta recebe, certa manhã, uma fita de vídeo constando filmagem de longa sequência da entrada de sua residência, acompanhada ainda de um desenho obscuro de traços infantis. Não demora muito e outras fitas e desenhos sucedem-se, sendo que uma destas revela relação com as origens do patriarca da família. O apresentador de TV e sua esposa, ambos envolvidos com o mundo literário, sentem-se mais e mais ameaçados e intrigados com a origem das fitas e com as intenções de quem as produziu.
Casal de classe média-alta recebe, certa manhã, uma fita de vídeo constando filmagem de longa sequência da entrada de sua residência, acompanhada ainda de um desenho obscuro de traços infantis. Não demora muito e outras fitas e desenhos sucedem-se, sendo que uma destas revela relação com as origens do patriarca da família. O apresentador de TV e sua esposa, ambos envolvidos com o mundo literário, sentem-se mais e mais ameaçados e intrigados com a origem das fitas e com as intenções de quem as produziu. Os últimos momentos da vida de Adolf Hitler e do regime nazista são retrados a partir dos relatos de Traudl Junge, secretária pessoal do comandante alemão.
Os últimos momentos da vida de Adolf Hitler e do regime nazista são retrados a partir dos relatos de Traudl Junge, secretária pessoal do comandante alemão.
