 Psicólogo tenta fazer a esposa superar a perda do filho de três anos, morto por cair da janela do apartamento enquanto os dois faziam sexo. Para tanto, ambos se isolam na cabana de uma floresta chamada por eles de “Éden”. Uma vez lá, a relação entre os dois torna-se estranhamente perigosa.
Psicólogo tenta fazer a esposa superar a perda do filho de três anos, morto por cair da janela do apartamento enquanto os dois faziam sexo. Para tanto, ambos se isolam na cabana de uma floresta chamada por eles de “Éden”. Uma vez lá, a relação entre os dois torna-se estranhamente perigosa.
“Anticristo”, mais recente filme do diretor dinamarquês Lars Von Trier, é o mais perfeito exercício de todas as suas idiossincrasias, tanto em estilo, quanto em conteúdo e também no efeito pretendido sobre o espectador e a crítica. Isso, porém, não quer dizer que este seja o seu melhor trabalho: é justamente pelo diretor ter se aplicado tanto em derramar suas obsessões cinematográficas que cada um destes componentes foi subvertido em um empreendimento marcado por falhas.
Primeiramente, no que tange ao estilo, “Anticristo” é um apanhado das técnicas experimentadas por Von Trier em sua carreira. A direção de fotografia de Anthony Dod Mantle e a condução das cenas do próprio diretor combina e contrasta o apuro visual de filmes como “Europa” com o naturalismo à la Dogma 95 de “Os Idiotas”, a filmagem ao mesmo tempo intimista e livre oriunda de “Ondas do Destino” com aquela cuidadosamente planejada, presente em sequências de “Dogville”, a montagem e edição abrupta e seca vista nos diálogos de “Dançando no Escuro” com a cautelosamente estudada e adornada, exposta novamente em “Europa”. Apesar de eu não poder afirmar que o resultado não seja homogêneo, muitas vezes o esmero é tão grande que subjuga a cena à técnica, o que potencializa a sensação de artificialidade. As sequências estilizadíssimas que abrem e fecham o filme, por exemplo, buscam conjugar uma atmosfera poética com tanto afinco que a beleza que ali se busca torna-se em boa medida intoleravelmente irritante. A cena que se segue pouco depois, com o passeio de Charlotte Gainsbourg pelo “Éden” retratado por uma fotografia que ressalta o obscuro da floresta e uma câmera lentíssima que objetiva ampliar a surrealidade e a sensação de suspense, é plasticamente fascinante e lembra muito o visual oniricamente perverso e sombrio do game e do filme “Silent Hill”, por exemplo, mas não obtém o efeito aterrorizante nem de um nem do outro.
Com referência ao conteúdo, muito se tem analisado e dissecado os vários elementos presentes nos diálogos e na narrativa de “Anticristo” para se chegar as possíveis significações do filme. Há quem veja uma alegoria que remete ao Gênesis bíblico, há os que enxergam o longa-metragem como uma expiação das próprias compulsões e crenças do diretor, apontando elementos que vertem misoginia, descrédito religioso e masoquismo físico e não-físico, outros já encontram uma representação moderna da perseguição secular às mulheres, há aqueles ainda que fundamentam-se na psicologia para encontrar ali um tratado da loucura, seus embricamentos e extensões enquanto mais alguns procuram no filme elementos de puro horror sobrenatural, apontando a natureza como personificação e também influência do mal. E existem até mesmo os que consideram que o filme congrega muitas destas interpretações conjuntamente. Pessoalmente, eu acredito que de fato há muitos destes diferentes significados sendo trabalhados de forma combinada em “Anticristo”. Observe-se, por exemplo, que o uso do símbolo do feminino na grafia do título do filme aponta a personagem de Gainsbourg como representação do mal, mas isso tanto pode fazer refêrencia ao contexto que interpreta o mal como derivado do mundo natural e presente nas mulheres por serem os seres mais intimamente relacionados à demanda natural, como à interpretação mais psicológica e realista, apontando-a como portadora de uma forma extremamente nociva e traçoeira de insanidade. O sobrenatural e surreal também não pode ser desprezado, já que ele é simbolizado no comportamento bizarro dos animais da floresta, mas eles se manifestam na interação que o personagem de Willem Dafoe tem com o mundo natural ao seu redor, o que dá espaço para interpretá-lo tanto no contexto de vítima como no de agente de toda esta perturbação, seja ela sobrenatural ou efeito de delírio. Pode-se até mesmo enxergar à ambos, ele e sua mulher, como portadores deste mal (sobre)natural, visto que ela comenta também conhecer algumas destas manifestações. No entanto, apesar de intrigante, a polissemia semântica não consegue atingir nível suficiente de densidade e de sustentação, diferentemente do que acontece no enredo metafórico de “Dogville” e “Manderlay”, as duas partes até agora produzidas da trilogia “Terra de Oportunidades”, fazendo o espectador de “Anticristo” sair da sala com a sensação de que faltou alguma coisa. Fosse incrementada uma das possíveis instâncias de significado, ou mesmo removida alguma delas, e talvez o filme ganhasse mais impacto no seu caráter semântico.
Quanto as reações obtidas pelo filme, muito se tem falado, para o bem e para o mal de “Anticristo”, e isso não é novidade alguma. Deixar espectadores chocados, irritados ou mesmo enojados também é notícia velha em se tratando de Lars Von Trier. Não é de hoje que os filmes do diretor despertam tais reações na platéia – e muito disso é vontade confessa de Von Trier, é bom dizer. Muitos dos seus filmes anteriores também levantaram, em considerável medida, o mesmo tipo de reação onde quer que fossem exibidos. Por isso, alguns podem pensar que “Anticristo” seja o mais violento e cruel dos filmes de Lars Von Trier, e de certa forma, realmente é. Porém, penso que a questão não é simplesmente o fato do filme ser provavelmente o mais explicitamente violento, mas se era necessário que ele fosse explicitamente violento. Aliás, é preciso entender do que se trata o termo “explícito” neste filme antes. Ao contrário do que se possa pensar, o explícito aqui é bastante pontual: algumas cenas são realmente gráficas, mas diferentemente da impressão deixada elas são muito poucas, bastante breves e não tem qualquer paralelo com o espetáculo de carnificina do chamado cinema “torture porn”, o que faz as poucas vozes que declararam o parentesco de “Anticristo” com este gênero repulsivo serem fruto de um julgamento equivocado. Apesar disso tudo, confesso não entender a necessidade de sua presença. Por qual razão Von Trier fez questão de focar sua câmera na mutilação e em atos sexuais explícitos simulados e, diga-se, também não simulados, este, por sinal, exibido em close, com requintes de estilização e embelezamento em pouco mais de um minuto de filme? Chocar a platéia parece ser a única motivação. Mas o efeito teria sido muito mais profundo e indelével pela sugestão destes atos – nem preciso citar exemplos, os grandes marcos da história do cinema se encarregam disso. Como estão, por mais breves e poucas que sejam as cenas de violência e sexo desnecessariamente explícito, seu efeito me parece o exato oposto do que se tentou obter. Elas destoam, deixando um estigma um tanto barato no longa-metragem. Por mais que se discuta, se fale, se debata sobre a polêmica do conteúdo, são estes artifícios visuais supérfluos a primeira coisa que qualquer pessoa vai lembrar ou comentar.
“Anticristo” fica assim como o maior deslize até esta altura da filmografia de Lars Von Trier. Como os demais filmes do dinamarquês, há elementos intrigantes e fascinantes no longa-metragem, porém, o esmero excessivo que se converte em puro maneirismo visual produz um ruído na narrativa que só faz tumultuar e diluir o seu efeito, ironicamente desperdiçando a riqueza dos recursos técnicos e não-técnicos ali aplicados. Um exemplo é o belo trabalho de interpretação dos dois únicos atores de seu elenco, que perde grande parte de sua força ao sofrer constantes interferências dos excessos que o subjugam. Esta falta de limite e de considerável foco do longa-metragem é provável que seja fruto do estado perturbado em que ainda se encontrava o cineasta, recém-saído de uma de suas intensas crises depressivas. Penso que o mais sensato seria o diretor ter aguardado o completo reestabelecimento de sua capacidade criativa, algo que ele mesmo confessou não possuir suficientemente durante a produção do filme – só assim ele teria o discernimento necessário para notar que suas obsessões pessoais e artísticas encontravam-se num ponto por demais incensado.
rapidshare.com/files/278083614/Antic_2009_DVDRip.DoNE_DGN_CW.part1.rar
rapidshare.com/files/278083633/Antic_2009_DVDRip.DoNE_DGN_CW.part2.rar
rapidshare.com/files/278083675/Antic_2009_DVDRip.DoNE_DGN_CW.part3.rar
rapidshare.com/files/278083652/Antic_2009_DVDRip.DoNE_DGN_CW.part4.rar
rapidshare.com/files/278083703/Antic_2009_DVDRip.DoNE_DGN_CW.part5.rar
rapidshare.com/files/278083710/Antic_2009_DVDRip.DoNE_DGN_CW.part6.rar
rapidshare.com/files/278083686/Antic_2009_DVDRip.DoNE_DGN_CW.part7.rar
legendas (português):
http://legendas.tv/info.php?d=a0012bcdaf0620f0483bf7dc2e807e26&c=1



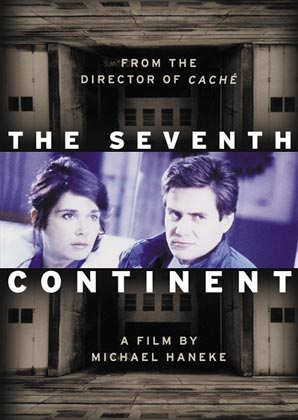

 Grupo que rouba segredos industriais de grandes executivos invadindo seus sonhos tenta fazer com que o filho de um grande empresário do ramo da energia divida o conglomerado de empresas invadindos os sonhos deste para inserir a idéia.
Grupo que rouba segredos industriais de grandes executivos invadindo seus sonhos tenta fazer com que o filho de um grande empresário do ramo da energia divida o conglomerado de empresas invadindos os sonhos deste para inserir a idéia. Habitantes de cidade francesa tem que lidar com o retorno de milhares de pessoas que estão entre as 70 milhões por todo o mundo que voltaram repentinamente à vida, todas mortas nos últimos 10 anos e, na sua maioria, idosos.
Habitantes de cidade francesa tem que lidar com o retorno de milhares de pessoas que estão entre as 70 milhões por todo o mundo que voltaram repentinamente à vida, todas mortas nos últimos 10 anos e, na sua maioria, idosos. O cantor Marc Stevens, procurando o rumo do local onde faria uma apresentação natalina, perde-se no trajeto noturno em meio à uma floresta desconhecida. Logo encontra alguém e recebe abrigo em uma pousada, sem saber o que o aguarda no lugar.
O cantor Marc Stevens, procurando o rumo do local onde faria uma apresentação natalina, perde-se no trajeto noturno em meio à uma floresta desconhecida. Logo encontra alguém e recebe abrigo em uma pousada, sem saber o que o aguarda no lugar. Psicólogo tenta fazer a esposa superar a perda do filho de três anos, morto por cair da janela do apartamento enquanto os dois faziam sexo. Para tanto, ambos se isolam na cabana de uma floresta chamada por eles de “Éden”. Uma vez lá, a relação entre os dois torna-se estranhamente perigosa.
Psicólogo tenta fazer a esposa superar a perda do filho de três anos, morto por cair da janela do apartamento enquanto os dois faziam sexo. Para tanto, ambos se isolam na cabana de uma floresta chamada por eles de “Éden”. Uma vez lá, a relação entre os dois torna-se estranhamente perigosa. Eventos violentos, que ocorrem de forma infrequente, começam a perturbar a paz de uma vila de agricultores situada nas propriedades de um barão na Alemanha de 1913.
Eventos violentos, que ocorrem de forma infrequente, começam a perturbar a paz de uma vila de agricultores situada nas propriedades de um barão na Alemanha de 1913.