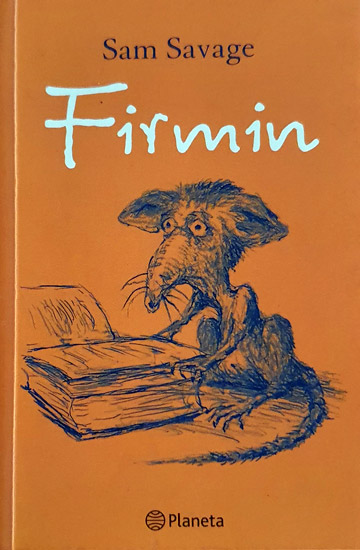Quando espiei – bem superficialmente e sem muita atenção, confesso – o álbum que Jenny Lewis lançou em colaboração com as irmãs americanas Chandra e Leigh, a sonoridade escolhida não me despertou interesse por estar fortemente calcada na música country. Felizmente, porém, isso mudou sensivelmente no primeiro álbum lançado pelas garotas e, para minha surpresa, ao conferir o comentário do meu amigo Zé via Twitter sobre o novo álbum da dupla, neste o estilo foi ainda mais destilado. Há uma ou outra faixa que ainda não escapou do domínio do country, caso da balada macia e “Tell Me Why”, com violões, bateria e piano conduzindo uma melodia meiga que é regida pelo vocal das duas irmãos afinado com o romantismo da música, mas a frequência sonora de Talking To You, Talking To Me invade mesmo é a fronteira do rock ao trazer composições onde o country só entra para inserir o principal tema do gênero – o amor – e para lançar vapores delicados nas melodias caprichadíssimas, algumas delas rescindindo uma sensualidade suave e discreta, apesar de que em “Midnight”, ainda que esta seja introduzida por uma soberba escalada sonora com o piano de acordes quentes e a bateria, seguindo com um orgão de longas notas lânguidas, guitarra de cadência pausada e lenta e vocais doces para compor uma melodia vagarosa e sexy, é a sequência mais vigorosa que fecha a música que acaba por conquistar o ouvinte: os instrumentos sustentam um longo gemer freemente que bem poderia servir de trilha para uma cena de sexo cheia de paixão com flashes de roupas sendo arrancadas e jogadas pelo ar. “Devil In You”, contudo, carrega um teor sensual bem mais sutil no compasso marcado pela bateria, baixo e guitarra de volteios cíclicos, piano dedilhado em toques breves e ocasionais e orgão que lança notas de um erotismo elegante.
Quando espiei – bem superficialmente e sem muita atenção, confesso – o álbum que Jenny Lewis lançou em colaboração com as irmãs americanas Chandra e Leigh, a sonoridade escolhida não me despertou interesse por estar fortemente calcada na música country. Felizmente, porém, isso mudou sensivelmente no primeiro álbum lançado pelas garotas e, para minha surpresa, ao conferir o comentário do meu amigo Zé via Twitter sobre o novo álbum da dupla, neste o estilo foi ainda mais destilado. Há uma ou outra faixa que ainda não escapou do domínio do country, caso da balada macia e “Tell Me Why”, com violões, bateria e piano conduzindo uma melodia meiga que é regida pelo vocal das duas irmãos afinado com o romantismo da música, mas a frequência sonora de Talking To You, Talking To Me invade mesmo é a fronteira do rock ao trazer composições onde o country só entra para inserir o principal tema do gênero – o amor – e para lançar vapores delicados nas melodias caprichadíssimas, algumas delas rescindindo uma sensualidade suave e discreta, apesar de que em “Midnight”, ainda que esta seja introduzida por uma soberba escalada sonora com o piano de acordes quentes e a bateria, seguindo com um orgão de longas notas lânguidas, guitarra de cadência pausada e lenta e vocais doces para compor uma melodia vagarosa e sexy, é a sequência mais vigorosa que fecha a música que acaba por conquistar o ouvinte: os instrumentos sustentam um longo gemer freemente que bem poderia servir de trilha para uma cena de sexo cheia de paixão com flashes de roupas sendo arrancadas e jogadas pelo ar. “Devil In You”, contudo, carrega um teor sensual bem mais sutil no compasso marcado pela bateria, baixo e guitarra de volteios cíclicos, piano dedilhado em toques breves e ocasionais e orgão que lança notas de um erotismo elegante.
A marca mais evidente das criações das irmãs gêmeas, porém, é a delicadeza. “Modern Man”, faixa que abre o disco com um rítmica mais puxada, é encoberta por essa feição equilibrada na bateria escandida em um trotar curto e ligeiro e em sua guitarra cujas notas reverberam discretamente por todo o arranjo, lançando um calor metálico na atmosfera da canção. “Brave One” também tem bateria veloz, mas a guitarra e os violões não ficam para trás, acompanhando os passos curtos porém rápidos da música base que é atravessada pela sintetização quase infantil que cintila pontuando a melodia. Por sua vez, “Harpeth River” tem a alma musical dividida entre o pulso sensual do orgão e da guitarra de arfantes notas ásperas e a agitação triste do arranjo mais espesso da bateria que acompanha o refrão. Já “Calling Out” não se divide em momento algum, calcando-se com segurança no gingado discreto da bateria e guitarra, colocando o orgão para fazer o papel coadjuvante numa melodia que parece ter sido encomendada para servir de fundo à troca de olhares entre duas pessoas em cantos opostos de um bar e separados por uma pista cheia de casais embalados pelo toques afrodisíacos da canção. Fechando o disco, as irmãs tingem a bateria, guitarra e violões de “U-N-Me” com um fluxo pop/rock cheio de energia e luminosidade, lançando suas vozes de modo decidido no refrão e nos vocais de fundo encantadores e botando pilha no piano e no pandeiro sem pele que vibram na rítmica efusiva da bateria.
Foi um bom negócio trocar as referências musicais após a colaboração com Jenny Lewis. O rock que produzido pelas irmãs Watson, que começou a ser injetado já no álbum anterior, trouxe frescor contemporâneo à sua música, flexibilizando suas potencialidades artísticas e ampliando o círculo de fãs e admiradores da dupla. E isso tudo sem comprometer a integridade do trabalho já feito, uma vez que a verdadeira essência musical das irmãs é a sonoridade delicada, e não a fidelidade à um gênero musical específico. Ao que parece, o country está perdendo duas belas representantes, mas o rock com certeza não se incomoda nem um pouco de lhes dar as boas-vindas.
P.S. – não deixe de ler também o texto que o Zé escreveu no seu blog sobre este álbum.
rapidshare.com/files/381255128/watson_-_talking.rar
senha: seteventos.org
1 comentário O hype e o conceito do “viral” são coisas que irritam como poucas – ao menos a mim. Se é o filme mais faladinho, o vídeo mais twittadinho, a banda mais conceituadinha no circuito alternativo ou na cadeia auto-declarada e auto-alimentada dos blogueiros mais badaladinhos da web, podem ter certeza que eu vou esperar muito tempo pra ver qual é a dessas coisas todas – isso se eu realmente me dispor a conferir. Essa foi a razão que levou meus ouvidos a realmente dar confiança à banda
O hype e o conceito do “viral” são coisas que irritam como poucas – ao menos a mim. Se é o filme mais faladinho, o vídeo mais twittadinho, a banda mais conceituadinha no circuito alternativo ou na cadeia auto-declarada e auto-alimentada dos blogueiros mais badaladinhos da web, podem ter certeza que eu vou esperar muito tempo pra ver qual é a dessas coisas todas – isso se eu realmente me dispor a conferir. Essa foi a razão que levou meus ouvidos a realmente dar confiança à banda 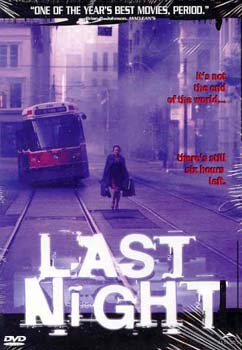 Nas últimas horas da existência do planeta, vidas de anônimos que encaram e se preparam de diferentes modos para o destino final da Terra são cruzadas em uma Toronto que se divide entre o caos e a tentativa de manter a normalidade.
Nas últimas horas da existência do planeta, vidas de anônimos que encaram e se preparam de diferentes modos para o destino final da Terra são cruzadas em uma Toronto que se divide entre o caos e a tentativa de manter a normalidade. Como a maior parte das coisas na internet, chega uma hora que você acha uma utilidade pra tudo e acaba simpatizando com os serviços, até alguns que causam pré-irritação por conta do hype. Vejam só que coisa: eu cheguei a repudiar blogs – faz muito tempo, obviamente. Agora foi a vez do
Como a maior parte das coisas na internet, chega uma hora que você acha uma utilidade pra tudo e acaba simpatizando com os serviços, até alguns que causam pré-irritação por conta do hype. Vejam só que coisa: eu cheguei a repudiar blogs – faz muito tempo, obviamente. Agora foi a vez do  Os irmãos Wendy e Jon, ele um professor universitário às voltas com a produção de seu livro sobre Bertolt Brecht e ela ocupada com sua constante tentativa de obter financiamento para lançar sua peça de teatro, tem que repentinamente arranjar uma forma de lidar com o pai idoso com o qual pouco contato tiveram depois de uma infância de abusos.
Os irmãos Wendy e Jon, ele um professor universitário às voltas com a produção de seu livro sobre Bertolt Brecht e ela ocupada com sua constante tentativa de obter financiamento para lançar sua peça de teatro, tem que repentinamente arranjar uma forma de lidar com o pai idoso com o qual pouco contato tiveram depois de uma infância de abusos.